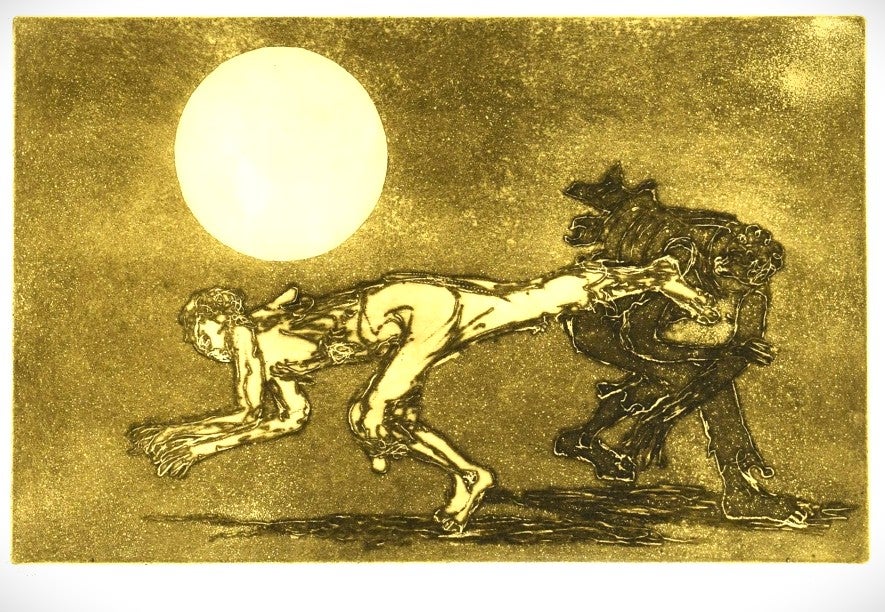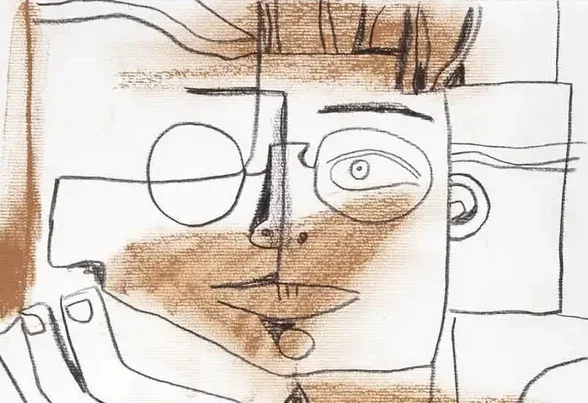O livro de Marcus André Melo e Carlos Pereira, publicado no final de 2024 pela Companhia das Letras, parece ter sido escrito para fazer com que os analistas políticos reflitam com mais cuidado sobre a vida política brasileira.
Mediante uma análise competente, bem articulada e bem escrita, os autores fazem uma ode ao institucionalismo e à hipótese das escolhas racionais. Fornecem um bom conjunto de sugestões para explicar a resiliência de nossa democracia.
O ponto de partida de toda a argumentação é a crítica que fazem às “narrativas de que as condições de governabilidade no presidencialismo multipartidário brasileiro teriam se deteriorado”. A justificativa fornecida por essas narrativas é de que “o presidente teria perdido a preponderância em suas relações com os parlamentares, o que dificultaria a construção e a sustentação de coalizões majoritárias no Congresso. Custos altos de construção e gerenciamento de coalizões, derrotas legislativas ou mesmo ingovernabilidade seriam as consequências esperadas diante da sucessão de eventos dessa magnitude”. As narrativas, em suma “alegam que a qualidade dos líderes políticos piorou. Dizem que o Executivo se enfraqueceu e que o Legislativo, agora dominado pelos partidos amorfos do Centrão, se fortaleceu transformando o presidente em refém”.
Não é difícil encontrar narrativas do tipo na crônica brasileira e, com certeza, na opinião pública. O sentimento geral é contrário à política oferecida pelos protagonistas. E a falta de resultados que alterem a vida da população agrava esse sentimento.
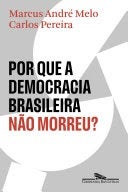
Os autores, porém, nos convidam a olhar além. Para eles, a democracia brasileira não está a sofrer uma “ameaça existencial”. Embora o mal-estar tenha levado a uma “polarização dilacerante” e ao “descontentamento generalizado”, a democracia sobreviveu. Há potenciais disfunções no modelo constitucional, mas isso não deve ser levado muito longe, porque “não há um modelo ideal de desenho institucional” e “sistemas políticos são fruto de escolhas específicas”. A democracia não está em crise ou em colapso.
Nos anos recentes, os cidadãos brasileiros tornaram-se mais críticos e, talvez, “positivamente mais cínicos”. O desencantamento não deve ser entendido apenas em registro negativo, pois ele transfere pressão sobre os políticos e os faz mais instáveis em suas postulações eleitorais, e mesmo em seu “ataque” aos fundos públicos.
Parte importante da crítica de Marcus Melo e Carlos Pereira está na concepção que têm do governo de coalizão, “forma modal na democracia contemporânea”. Para eles, o multipartidarismo gerou ordem e equilíbrio no sistema político, porque permitiu que o presidente, dotado de “ampla gama de poderes e recursos discricionários”, tivesse condições de suplantar os problemas inerentes à nossa excessiva fragmentação partidária e à condição de minoria de seu partido no Parlamento. Ou seja, “o presidente virou uma espécie de CEO da engrenagem governativa, coordenando seus parceiros de coalizão”. Donde a exigência que lhe é feita: “Sabendo utilizar as ferramentas de gerência de coalizão, ele tem condições de governar bem e a um custo relativamente baixo”. O sistema, para funcionar requer um “gerente” que saiba como o jogo funciona e consiga manusear bem suas ferramentas de governo.
O problema é que, no Brasil, “falta este elemento essencial: os acordos públicos programáticos das coalizões”. Em suma, faltam-nos lideranças capacitadas para “construir consensos em governos de coalizão”. Mesmo assim, concluem os autores, “o presidencialismo multipartidário brasileiro, embora de forma não linear e com grandes tropeços, tem criado incentivos para a cooperação, ainda que os objetivos não tenham sido plenamente alcançados”.
O livro é muito rico e repleto de pontos esclarecedores. Uma leitura da qual se sai renovado.
Outro ponto a ser destacado é que Marcus Melo e Carlos Pereira põem à prova o alcance das abordagens institucionalistas e de escolha racional. Eles concedem amplo espaço à dimensão institucional, o que por certo dá boa sustentação à argumentação de que a democracia não morreu. A análise se concentra nas virtudes da institucionalidade derivada da Constituição de 1988. O viés institucionalista sugere muitas coisas interessantes, mas não é suficiente para enquadrar o Brasil democrático.
É como a argumentação não levasse em conta o terreno socioeconômico e cultural. O mundo mudou muito de 1988 para cá, e junto foi a sociedade brasileira. Será que a institucionalidade vigente (o presidencialismo de coalizão) assimilou isso e se atualizou? Seus principais protagonistas – parlamentares, governantes, ativistas, dirigentes partidários – avançaram em termos de compreensão do mundo atual e da forma social que vem com ele?
A democracia não morreu, é verdade, mas como explicar a inépcia governamental, que se estende por muitos anos apesar de todas as coalizões? Seria ela a resultante dos freios e contrapesos, ou o buraco é mais fundo? Por que o sistema não consegue produzir resultados e gera tanto descontentamento?
Para responder a isso talvez tenhamos de recorrer a uma sociologia da sociedade brasileira, compreender suas mudanças estruturais e as alterações produzidas na cultura política, entre outras coisas. Em tese, poderíamos dizer que, para sermos felizes como sociedade, uma boa armadura institucional pode não ser suficiente para interagir com uma sociabilidade agitada, desigual, descoordenada, caótica. A democracia pode permanecer funcionando, mas gerar tanto descontentamento que acaba por ver corrída sua base de sustentação.
Faltam-nos valores fundamentais e personagens que simbolizem a dignidade, a capacidade discursiva, o foco no fundamental. Faltam-nos partidos que “eduquem” os cidadãos, dialoguem com eles. Nossa cultura política está impregnada de traços não democráticos. Ela não funciona como uma mola que impulsione os brasileiros para engajamentos coletivos generosos.
Nada disso dissolve o valor da análise institucional, pois é evidente que sem uma boa institucionalidade nada a rigor pode ser feito democraticamente.