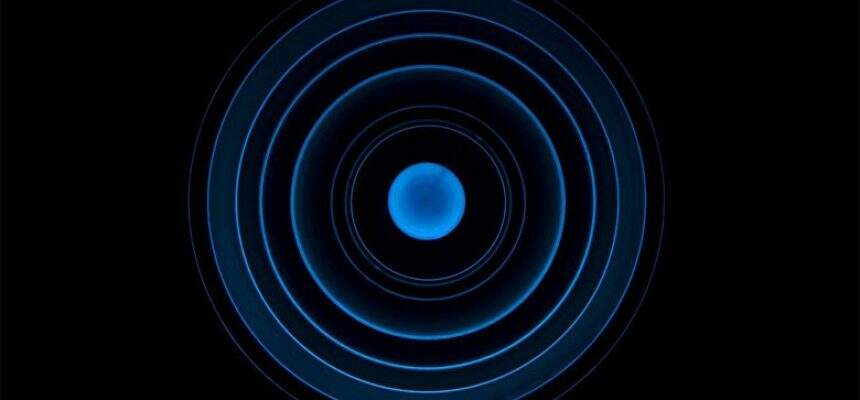A entrevista concedida pelo filósofo Marcos Nobre ao jornalista Tulio Kruse, publicada no Estadão de domingo 22/11, passou em revista as principais inflexões promovidas pelo primeiro turno das eleições municipais.
Com olhar arguto, Nobre acompanhou as análises que viram, nas urnas, uma reorientação do eleitorado, principalmente nas grandes cidades. E percebeu, corretamente, que o cenário político do País ficou marcado por um grande equilíbrio de forças. Os partidos perderam “hegemonia” junto ao eleitorado, o voto foi muito pulverizado e a negociação tornou-se essencial na política prática. Ficaram “todos mais ou menos do mesmo tamanho”, complicando bastante os arranjos e as alianças que serão feitas tendo em vista 2022.
Se o voto bolsonarista evaporou, o mesmo não aconteceu com o voto nos partidos que o apoiam no Congresso, integrantes do chamado Centrão. Mostraram capilaridade e em boa medida foram os que mais ganharam. Com isso, apertaram o cerco sobre o presidente da República. As esquerdas não se saíram bem, embora possam crescer em algumas capitais, como é o caso de Porto Alegre, Recife e São Paulo, ainda em segundo turno. E o universo democrático abriu-se ainda mais para a disputa, que será encarniçada.
Na entrevista, Marcos Nobre enfatiza o que ele considera ter sido o principal resultado das eleições: “a reorganização do campo político em três campos”, que ele chama de direita governista (o Centrão bolsonarista), direita tradicional (DEM, PSDB e MDB) e esquerda. Quero crer que a análise derrapa nesse ponto, resvalando na imprecisão.
Explico. O campo político sempre é uma tradução de quatro vertentes básicas: há uma esquerda e uma direita, assim como uma centro-esquerda e uma centro-direita. Sem essa diferenciação, a visão se engessa demais e deixa de capturar os interstícios e as nuances, que em política são determinantes. Se se faz uma distinção entre duas direitas, por exemplo, como na entrevista do filósofo, o correto seria distinguir também duas esquerdas (ou até mais, dependendo de circunstâncias várias).
O próprio Centrão, no Brasil, não é um todo homogêneo, que se diferencie com clareza. Compósito de partidos mais “fisiológicos”, ele muitas vezes escapa para o campo da centro-direita, podendo flertar de maneira mais aberta ou menos com a democracia, como ocorreu, por exemplo, durante os governos Lula. A “direita tradicional” aponta muito mais para a centro-esquerda e a centro-direita, com seus partidos (DEM, PSDB, MDB) flutuando sempre de olho no “centro”, ou seja, naquele ponto do campo para onde convergem os “impuros”, os moderados, os nuançados, que não cabem em camisas-de-força direitistas, podendo até mesmo ser todos democratas.
O que Nobre chama de “direita tradicional” é um Amazonas cujos afluentes vão da centro-direita ao liberalismo doutrinário e ao conservadorismo ilustrado, fazendo vizinhança com a centro-esquerda.
A própria esquerda precisaria ser pensada assim. Não há uma única versão dela, um bloco coeso e homogêneo. Há esquerdas, no plural, que se distribuem ou numa linha extremismo/moderação (extrema-esquerda/centro-esquerda; revolucionários/reformistas) ou conforme diferentes famílias ideológicas e programáticas (socialistas, comunistas, nacionalistas de esquerda, ambientalistas, social-democratas, anarquistas). Ou seja, é um universo complexo, que nem sempre caminha no mesmo passo e na mesma direção. Pior: nem todos são democratas ou têm a mesma visão de democracia.
Essas são observações à margem. Na entrevista, Marcos Nobre alcança o fundamental: nenhum setor da democracia brasileira pode, hoje, se proclamar hegemônico. Ninguém mais pode dizer “eu mando neste campo”, observa. Toda conversa, a partir de agora, tem de ser “muito mais colegiada”, tanto à direita quanto à esquerda. Diálogo e negociação serão os recursos principais.
A própria ideia de uma frente que se oponha a Bolsonaro em 2022 precisará ser pensada a partir daí. “No momento em que você tiver conversas amadurecidas, a direita democrática vai poder conversar com a esquerda democrática, e vão poder se entender sobre o fato de que a reeleição de Bolsonaro é um risco que a democracia brasileira não pode correr”. Se tal não se der, teremos um novo 2018.
Como escreveu Gabeira por esses dias, “Bolsonaro dissolve-se no ar, mas as condições que o fizeram ascender ao governo continuam vivas”. Há muitas coisas acontecendo e que precisam ser assimiladas com atenção. O declínio dos partidos que deram o ar da graça à polarização que dominou a política até 2018 é uma delas. PT e PSDB hoje contam muito menos, não porque surgiu algum sucedâneo para eles (tipo uma “nova esquerda” ou a “renovação social-democrática”), mas simplesmente porque os cidadãos começaram a pensar de outro jeito. há caras novas no pedaço e as correntes progressistas perceberam a importância de se articular por fora dos partidos e foram formando “frentes” eleitorais que, por mais imperfeitas que sejam, podem produzir resultados mais adiante.