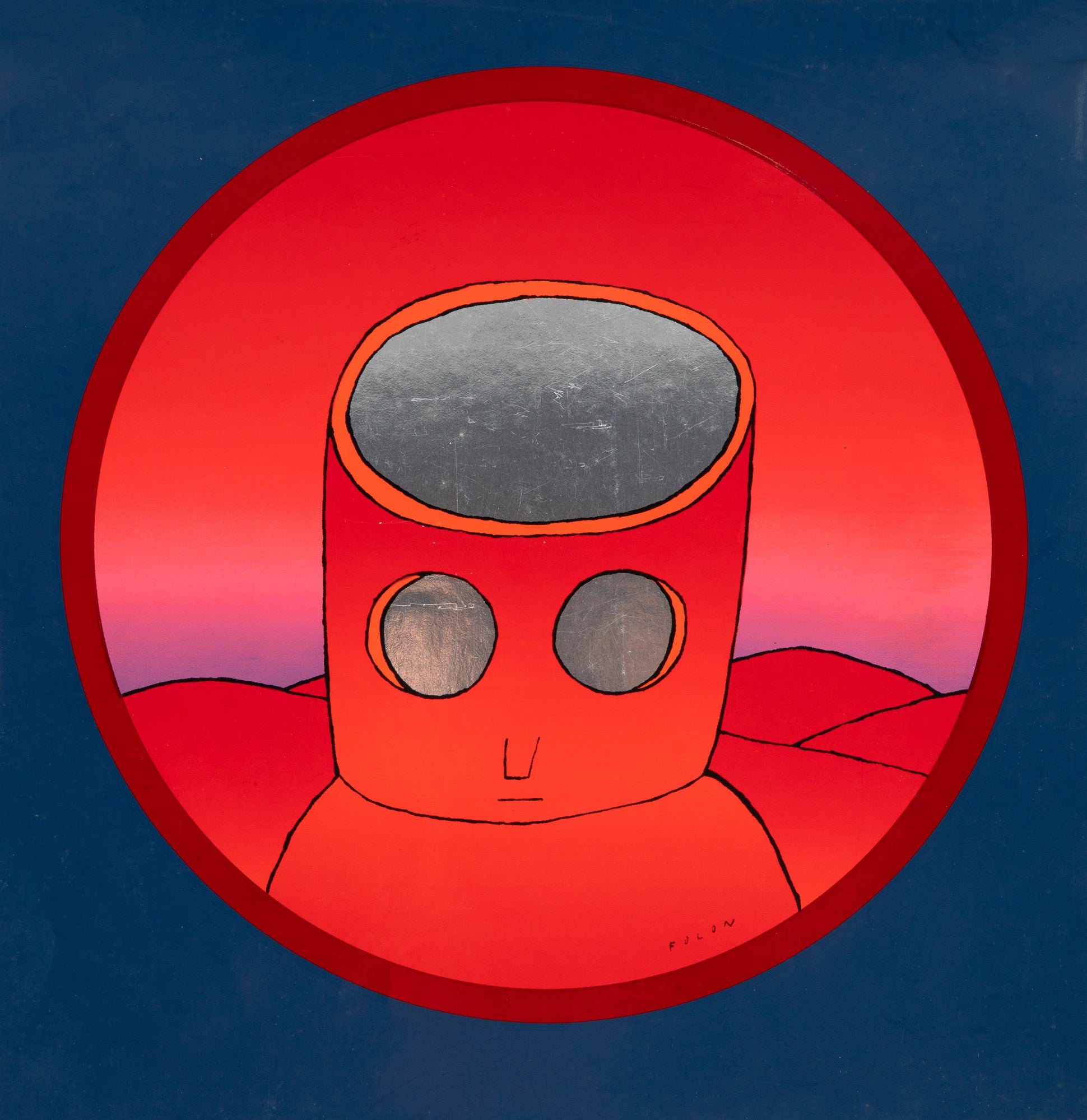Os militares sempre foram importantes agentes políticos e cumpriram funções decisivas na vida brasileira. Para recordar: fizeram a República em 1889, foram reformadores com o tenentismo e a Coluna Prestes nos anos 1920-30, foram admirados e temidos, ganharam prestígio e densidade institucional. Com o golpe militar de 1964, ajudaram a que o país ingressasse em um ciclo ditatorial que teve alto custo social e político, prejudicando grandemente a imagem das Forças Armadas. Durante os anos de chumbo, os militares foram vistos com temor, sem a admiração que haviam acumulado ao longo da história.
Com a redemocratização, os militares entraram em uma fase de “neutralidade” e respeito constitucional. Voltaram a ser elogiados pela postura técnica e pela disciplina.
Os dias correntes trouxeram à tona um enigma: o que levou os militares a emprestar seu prestígio e seus recursos ao governo Bolsonaro, um ex-militar sabidamente indisciplinado, ignorante, agressivo e sempre pronto a desafiar a corporação com atos e palavras?
Uma primeira hipótese já foi explorada: com o apoio ativo, os militares acharam que conseguiriam controlar o presidente e dar ao governo um suporte técnico adicional, que não viria do bolsonarismo, bastante conhecido por ser pobre de quadros e ideias. Não aconteceu.
Uma segunda hipótese afirma que os militares foram seduzidos pela perspectiva de “empoderamento” e de protagonismo governamental, recuperando o “salvacionismo” que repicou em vários momentos da história nacional. Explorando as alegadas virtudes da disciplina e do preparo técnico, meteram-se na política prática e enredaram-se nas malhas do poder.
A terceira hipótese é um pouco mais tortuosa. Indica que o Exército em particular foi selecionado pelo presidente para ser “testado” como instituição do Estado ou como dispositivo armado de governo. A intenção teria sido incluir os militares em um projeto de poder ao qual eles se submeteriam, deixando os governantes de mãos livres para agir, ou, pior, aliando-se a eles. Como escreveu o General Santos Cruz em artigo publicado no Estadão em 13/6 passado, o jogo seria viabilizado mediante “a tentativa permanente de arrastar o Exército para o erro histórico de assumir um protagonismo político em apoio a uma aventura pessoal perseguida de forma paranoica”.
O fato é que, hoje, dois anos e meio depois da eleição de Bolsonaro, os militares (as Forças Armadas) já não mais se distinguem do governo. Agarraram-se nele, entregaram-se a suas ordens e desejos. Foram projetados para o centro da permanente crise política e administrativa em que nos encontramos.
Consequência: as Forças Armadas (e o Exército em particular) passaram a correr o risco da erosão como instituição, da perda de identidade e do papel previsto para elas na arquitetura constitucional do Estado brasileiro. Afinal, o atual presidente é um demolidor de instituições e um apologeta da grosseria e do desrespeito. Os militares, assim, estariam abandonando a responsabilidade e a inserção positiva na vida nacional, aceitando uma posição subalterna e alheia à racionalidade técnica da corporação.
O que esperar a partir de agora? São cerca de seis mil militares e policiais militares no governo, muitos oficiais em cargos-chave e sustentando as estripulias presidenciais. Há compromissos e lealdades evidentes, que parecem soldar uma aliança que tem sido nefasta para o País.
O que sobrará do prestígio militar depois de tantas demonstrações de violência verbal, formulações toscas e desorientação explícita de um governo por eles apoiado, mas que não exibe nenhuma das virtudes das Forças Armadas, nem muito menos um projeto estratégico de nação? .
A erosão institucional pode causar quebra de disciplina e hierarquia. O “caso Pazuello” é uma chaga exposta. O Exército são os militares e as Polícias Militares, que formam “exércitos estaduais” independentes dos governadores. É um rastilho de pólvora, pronto para explodir caso se perca o controle.
Bem consideradas as tradições militares, não é fácil vislumbrar um “sonho chavista” ganhando força no Brasil, um País seguramente mais complexo que a Venezuela. Os militares não parecem “prontos” para serem usados por um projeto pessoal doentio. Não têm sido treinados para se submeter, mas para comandar. Seu lugar não é nos governos, nem nas praças públicas.
Mas, para que tudo isso seja de fato contratado, a política democrática precisa pulsar com vigor, emitindo sinais claros de que há disposição para arrumar a casa e unificar o País. Tudo passa pela emergência de uma articulação democrática plural, ativa e propositiva. É mais do que encontrar uma “terceira via”: é criar uma força moderada e reformadora, aberta e dinâmica, com ideias e programas claros.
O momento, portanto, exige muito mais dos democratas que dos militares. Sem os primeiros, os segundos ficam sem norte. Só os democratas poderão evitar o avanço da erosão que hoje afeta o Estado brasileiro e fornecer aos militares a possibilidade de repor sua função constitucional plena.
Publicado em O Estado de S. Paulo, p. A2, 26/6/2021.